POR HELENA OLIVEIRA
Por que motivo, para além da recompensa monetária, trabalhamos?
Para alguns sortudos, a resposta pode ser variada. Porque se gosta do que faz, porque o trabalho é uma actividade desafiante, porque se aprende coisas novas, porque se conhece pessoas interessantes, porque nos faz bem, porque faz bem aos outros… ou, por outras palavras, porque o trabalho tem um determinado significado e bem mais “chorudo” que o salário ao final do mês. E são estes predicados que nos fazem levantar da cama, sair de casa para ir para o trabalho e até levar o trabalho para casa, falar dele com orgulho com os demais e sentirmo-nos tristes quando chegar o dia da reforma. E, apesar de ninguém trabalhar para aquecer e o salário ser, obviamente, importante, a questão que aqui interessa reside no facto de o mesmo não representar, em muitos casos, o “centro” do nosso envolvimento ou entusiasmo.
O problema é que, para a grande maioria das pessoas, trabalhar significa tão só e somente ter dinheiro para pagar as contas ao final do mês, para além de ser o resultado de uma tarefa repetitiva, monótona, isenta de criatividade e de sentido. Mas terá de ser mesmo assim?
Barry Schwartz, psicólogo e autor do livro recentemente lançado “Why We Work”, acredita que não e defende que o trabalho com propósito ou sentido não deveria ser um luxo, mas uma característica de qualquer profissão, desde a de CEO até à de trabalhador na McDonald’s. A ideia de um “salário mental” – ou da realização pessoal que se sente quando se faz um trabalho de que se gosta ou ao qual atribuímos um extra de significado – não é nova, nem inovadores são muitos dos argumentos que Shwartz elege para figurarem no seu livro que tanto pode caber nas prateleiras dedicadas à economia ou à sociologia do trabalho, como nas de psicologia e teorias da motivação ou simplesmente, nos livros “simples” de gestão. Mas a verdade é que a forma, mais inovadora, de enquadrar o tema e relacioná-lo, por exemplo, com o período pré e pós Revolução Industrial, com a história do capitalismo e com a própria natureza humana, faz deste livro um bom instrumento de reflexão. Para além de tentar combater as terríveis estatísticas globais no que respeita à insatisfação no trabalho.
A culpa é do Adam Smith
Continua a ser um dos estudos mais citados nos últimos tempos no que respeita ao nível de satisfação dos trabalhadores do século XXI: em 2013, a Gallup Organization concluía que 87% destes, a nível global, não se sentiam “envolvidos” com as suas tarefas laborais. Ou, para melhorar a perspectiva, quase nove em cada dez trabalhadores passam, simplesmente, mais de metade da sua vida num sítio que não gostam, a fazer apenas o que lhes é pedido e a esperarem pelo final do mês para receberem a sua recompensa por “aguentarem” esta provação. E porquê?
Uma das possibilidades avançadas por Schwartz é muito simples e está relacionada com a ideia de que a preguiça é inerente à natureza humana. A este propósito, Schwartz revisita a obra “A Riqueza das Nações”, escrita por Adam Smith, o pai do capitalismo industrial moderno, que acreditava seriamente que as pessoas eram naturalmente preguiçosa e que só trabalhariam se lhes pagassem.
Como escreve na obra publicada em 1776, “é um interesse inerente a todos os homens viverem o mais tranquilamente possível”. Esta ideia, de acordo com Schwartz, influenciou, e continua a influenciar, o pressuposto principal de que só trabalhamos porque a isso somos obrigados. Um século depois, a mesma ideia viria a moldar o movimento de gestão científico particularmente associado a Frederick Taylor, o primeiro homem na história a considerar o trabalho digno de estudo e de observação constante, com o objectivo primordial de provar que, oferecendo-se instruções sistemáticas aos trabalhadores, existia a possibilidade de os fazer produzir mais e com melhor qualidade. Ao submeter a produção nas fábricas (em plena Revolução Industrial) ao escrutínio “minuto a minuto”, a teoria e o movimento ao qual ficou associado tinha como objectivo criar sistemas eficientes de produção que minimizavam a necessidade de competências ou de criatividade – algo que não era todo expectável por parte dos trabalhadores “preguiçosos” e apenas movidos pelo salário. Ou, por outras palavras, o que se perdia em termos de satisfação, ganhava-se em termos de eficiência.
Mas, e já antes de Taylor, Adam Smith apontava, em “A Riqueza das Nações”, para as virtudes da divisão do trabalho, com vários capítulos à mesma dedicados e, com o famoso exemplo da manufactura dos alfinetes – em que a cada trabalhador correspondia, sempre, a mesma tarefa, cuja repetição aumentava a “mestria” e, por conseguinte, a qualidade e a produtividade. “Os homens poderiam ficar cada vez mais pobres de espírito, mas os patrões enriqueceriam decerto”, escreve Schwartz.
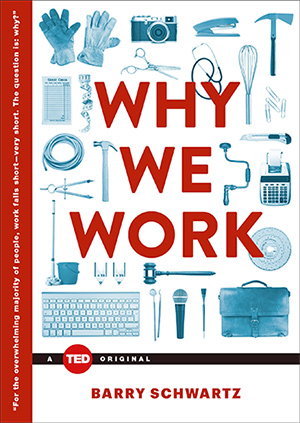 O problema é que, 250 anos passados, nas fábricas, nos escritórios e em outros locais de trabalho modernos, os detalhes podem ser diferentes, mas a situação no geral é, de acordo com o autor, muito similar: o trabalho continua a ser estruturado com base no pressuposto que se trabalha apenas para ganhar dinheiro. Como exemplifica: nos call centers, os trabalhadores são monitorizados para assegurar que a duração das suas chamadas telefónicas seja mínima; em muitas empresas, os teclados dos empregados são também supervisionados para que não exista qualquer desvio das tarefas impostas e até os médicos têm de ser rápidos nas suas consultas, para que o número de pacientes atendido corresponda a um cifra ou métrica previamente definida. Por outro lado, a esmagadora maioria dos trabalhadores sabe bem o que significa e implica “trabalhar por objectivos”. E se este pressuposto pode parecer completamente retrógrado, a verdade é que, em muitos casos, continua a ser uma realidade. E é contra esta estrutura laboral que se insurge o autor no seu livro.
O problema é que, 250 anos passados, nas fábricas, nos escritórios e em outros locais de trabalho modernos, os detalhes podem ser diferentes, mas a situação no geral é, de acordo com o autor, muito similar: o trabalho continua a ser estruturado com base no pressuposto que se trabalha apenas para ganhar dinheiro. Como exemplifica: nos call centers, os trabalhadores são monitorizados para assegurar que a duração das suas chamadas telefónicas seja mínima; em muitas empresas, os teclados dos empregados são também supervisionados para que não exista qualquer desvio das tarefas impostas e até os médicos têm de ser rápidos nas suas consultas, para que o número de pacientes atendido corresponda a um cifra ou métrica previamente definida. Por outro lado, a esmagadora maioria dos trabalhadores sabe bem o que significa e implica “trabalhar por objectivos”. E se este pressuposto pode parecer completamente retrógrado, a verdade é que, em muitos casos, continua a ser uma realidade. E é contra esta estrutura laboral que se insurge o autor no seu livro.
Por um lado, porque acredita que a maioria das pessoas não se reconhece na convicção de Adam Smith de que a natureza humana é inerentemente mandriona e que o que apenas move os trabalhadores é o salário no final do mês, apesar de ser inegável que, sem ele, também não se trabalharia. Mas a ideia é que há muito mais – e tão ou mais importante – para além do dinheiro. Quem não deseja um trabalho que seja desafiante e motivador? Quem não quer um trabalho do qual se orgulhe e sobre o qual possa exercer um controlo autónomo e que ofereça oportunidades de crescimento em termos de aprendizagem e satisfação intelectual? Quem não quer trabalhar com colegas e superiores que se respeitem mutuamente? E quem não pretende retirar um significado ou propósito do que faz, para além da compensação material que recebe?
Ao longo do livro Schwartz socorre-se de várias “bíblias da gestão” que provam, por A + B, que quanto mais envolvidos e satisfeitos estão os trabalhadores, maior é a sua produtividade e, por conseguinte, a performance da empresa. A reconhecida obra do académico de gestão Jeffrey Pfeffer, publicada em 1998 e intitulada “The Human Equation: Building Profits By Putting People First”, por exemplo, oferece uma análise de inúmeros estudos realizados em dezenas de indústrias diferentes que comprovam que as empresas que oferecem aos seus empregados um trabalho que seja desafiante, envolvente e significativo são muito mais lucrativas do que aquelas que os tratam como simples rodas dentadas numa engrenagem que não pode parar.
E estes exemplos não servem apenas para os denominados “trabalhadores do conhecimento”, mas para inúmeras e diversificadas áreas. Ou seja, um trabalhador de um call center poder-se-á sentir satisfeito por ter ajudado um cliente a resolver um problema, satisfação essa que é anulada se o seu supervisor considerar que “ultrapassou o tempo limite” para o fazer e avisando que, para a próxima, deverá ser menos atencioso ou solícito e mais eficiente.
Por outro lado, e como também defende Schwartz, “em vez de estarmos a enriquecer as oportunidades de trabalho de trabalhadores com poucas competências, estamos a empobrecer as oportunidades daqueles que possuem elevadas competências”, o que é uma perda dupla. Dos últimos, particulariza o caso dos professores que são forçados a seguir “guiões e normas” para que os seus alunos tenham boas notas nos testes estandardizados, de acordo com as quais todos são avaliados ou o dos médicos que, por força da poupança de custos, não fazem correctamente o que lhes compete ou ainda os advogados que, por serem normalmente pagos à hora, são obrigados a apressar os processos dos seus clientes. Mas os casos são inúmeros e, mesmo sabendo-se que esta rotinização e esvaziamento de sentido do trabalho só conduz a uma pior performance, para todos os envolvidos, a verdade é que parece que a mesma continua a ser incentivada. E porquê e para quê, questiona Schwartz?
Quando se faz do dinheiro a medida de todas as coisas, ele torna-se a medida de todas as coisas
 Regressando a Adam Smith e à influência que o mesmo teve no que respeita às estruturas de recompensas salariais como o motivador por excelência do trabalho, Schwartz “acusa-o” de ter pavimentado um caminho que chega até aos dias de hoje. “O que ele e os seus sucessores não perceberam”, escreve, “é que em vez de explorarem um facto sobre a natureza humana, estavam, pelo contrário, a criar um facto sobre a mesma”.
Regressando a Adam Smith e à influência que o mesmo teve no que respeita às estruturas de recompensas salariais como o motivador por excelência do trabalho, Schwartz “acusa-o” de ter pavimentado um caminho que chega até aos dias de hoje. “O que ele e os seus sucessores não perceberam”, escreve, “é que em vez de explorarem um facto sobre a natureza humana, estavam, pelo contrário, a criar um facto sobre a mesma”.
E como esta “alteração” da natureza humana não acontece de um dia para o outro, o resultado tem sido, muitas vezes e como explica o autor o seguinte: as pessoas entram para uma função/empresa/trabalho com um conjunto de aspirações que vão além do salário que irão receber. De seguida, descobrem que o seu trabalho está estruturado para que a maioria dessas aspirações não seja atingida. Ao longo do tempo, ou perdem por completo essas mesmas aspirações ou abandonam o trabalho em causa. E, à medida que este processo se perpetua, as gerações mais recentes nem sequer têm aspirações. A compensação monetária transforma-se, assim, na única coisa que é possível retirar do trabalho e quando os empregados negoceiam ou regateiam, apenas o fazem para que essa compensação seja maior, na medida em que não existe mais nada em cima da mesa para negociar. E é exactamente quando este processo se perpetua durante um longo período de tempo, que as pessoas se transformam na tal espécie de criaturas que Adam Smith sempre acreditou que elas eram. E com algumas excepções, é certo, mas a verdade é que até o próprio Adam Smith parece reconhecer esta transformação dinâmica da natureza humana relativamente à rotinização – e consequências que dela derivam – do trabalho.
“O homem cuja vida é passada em operações simples (…) não tem ocasião para exercer o seu raciocínio ou para exercitar a sua capacidade inventiva na procura de soluções para dificuldades que nunca ocorrem. Assim e de forma natural, perde o hábito desse tipo de esforço e, geralmente, torna-se tão estupido e ignorante quanto é possível uma criatura humana ser”, escreve (em tradução livre) também em “A Riqueza das Nações”.
Schwartz chama a atenção para as palavras “perde” e “torna-se”, afirmando que o que Adam Smith queria realmente dizer é que é o tipo de trabalho que as pessoas fazem que as transforma no tipo de criaturas que elas são. O que é secundado pela ideia do reconhecido antropólogo Clifford Geertz quando afirma que os seres humanos são “animais inacabados” ou, por outras palavras, que as pessoas não são completamente formadas pelo seu ambiente biológico. “Chegam ao mundo de uma determinada forma, mas é a experiência que têm no mesmo que as molda. Assim, e num mundo em que 90% dos trabalhadores retiram pouca ou nenhuma satisfação do trabalho que realizam, arriscamo-nos a criar uma natureza humana que vai ao encontro das suposições de Adam Smith”, conclui o psicólogo, acrescentando que o que os locais de trabalho modernos comprovam é que as pessoas podem ser o tipo de “organismos” divisados pelo pai do capitalismo, mas que não têm de o ser.
Para Barry Schwartz, existem amplas demonstrações deste processo nas mais “simples” realidades da vida moderna. Se, por exemplo, os colégios ou infantários cobram uma “taxa” aos pais que se atrasam a ir buscar os seus filhos, esses atrasos acabam por aumentar porque, para o pessoal dessas instituições, essas mesmas taxas substituem o sentido de responsabilidade dos pais. Se uma empresa oferece uma compensação aos cidadãos por causa de um depósito de resíduos tóxicos que afecta a sua comunidade, a gravidade do caso diminui, porque a oferta dessa mesma compensação reduz o seu sentido de responsabilização enquanto cidadãos. As pessoas mostram-se menos disponíveis para ajudarem a carregar um sofá para dentro de uma camioneta se lhes for oferecido dinheiro, porque essa oferta de pagamento transforma a sua tarefa numa transacção comercial em vez de ser um simples favor que se faz a um outro ser humano. Ou, como sublinha o autor, “se o pagamento se transforma na única forma possível de compensação/satisfação, as pessoas podem eventualmente vir a perder o sentido do que significa ‘fazer um favor’, da ‘responsabilidade social’ ou do ‘dever público’. O que significa que quando se faz do dinheiro a medida de todas coisas, ele se torna, simplesmente, a medida de todas as coisas.
Para além da verdade inquestionável de que as pessoas devem ser adequadamente compensadas pelo seu trabalho, no que respeita a vitórias nas fileiras laborais, esta não pode ser a única procurada. As pessoas podem e devem manter as aspirações que as levam a abraçar um desafio profissional. Mas e como?
Para Barry Schwartz, é dever das empresas e dos empregadores oferecerem aos seus trabalhadores mais do que a cenoura salarial ao final do mês. Há que lhes oferecer oportunidades de aprendizagem e crescimento e encorajá-los a sugerirem melhorias ou alterações nos processos de trabalho, escutando-os com atenção. Em paralelo, é igualmente urgente enfatizar as formas mediante as quais o trabalho de um qualquer profissional pode melhorar a sua vida, mas também a dos outros. O trabalho que é adequadamente compensado consiste num importante bem social. Mas o mesmo acontece com um trabalho que vale a pena ser feito. “E a vida é curta demais para que metade dela seja passada a trabalhar só para ganhar o suficiente para comer e pagar contas ao final do mês”, remata. E tem toda a razão.
Editora Executiva


































