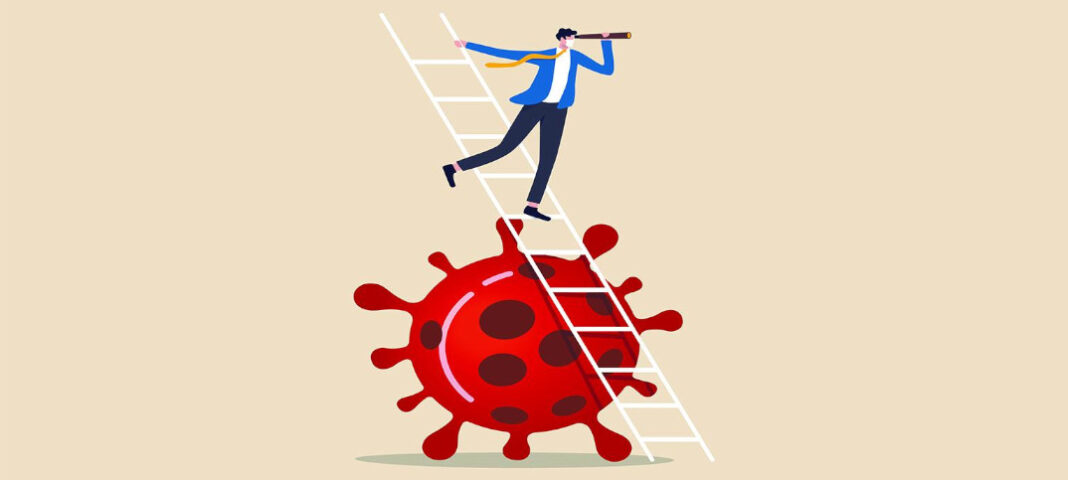O regresso da confiança animará os consumidores e as compras online passarão a fazer parte da rotina de muitos. A inovação e o empreendedorismo serão significativamente estimulados. Por causa da digitalização, a produtividade deverá aumentar. O futuro do trabalho é já uma realidade no presente. Critérios de sustentabilidade nos negócios e nos investimentos serão cada vez mais comuns e o capitalismo dos stakeholders atingirá uma maior maturidade. Se a pandemia deixar (e nos deixar), estas são as principais tendências a vigorar num futuro que se deseja o mais próximo possível. E algumas estão já a acontecer
POR HELENA OLIVEIRA
Apesar do caos que vivemos naquela que foi já “oficializada” como a terceira vaga da Covid-19, para muitos observadores e especialistas, 2021 será o ano da transição. Salvo qualquer outra catástrofe inesperada – e se os resultados promissores da vacinação se verificarem – indivíduos, empresas e sociedade podem começar a pensar em moldar o seu futuro, abandonando, ainda que lentamente, a inércia e o sentimento de “modo pausa” que tem vindo a acompanhar as nossas vidas há quase um ano. Todavia, uma coisa parece certa: o próximo “normal” pouco ou nada terá a ver com o “antigo” e o regresso às condições que prevaleceram em 2019 será mais do que improvável.
O artigo que se segue tem como base a visão da consultora McKinsey no que respeita às tendências que se esperam relativamente a este “novo normal”, para o presente e para além dele, e que terão implicações na economia global, na forma como as empresas se irão ajustar ao mesmo, a par de uma transformação que poderá ser radical para a sociedade como resultado do impacto da crise pandémica. A partir de um extenso artigo, elegemos algumas das tendências abordadas.
A retoma só acontecerá com aumento dos níveis de confiança dos consumidores
“Existem filas à porta das lojas, mas são frequentemente devidas a requisitos de distanciação física. Os teatros estão às escuras. As colecções de moda estão em armários e não em exposição. Se o Museu do Louvre estivesse aberto, a falta de turistas poderia criar a oportunidade para uma vista desobstruída da Mona Lisa”. Ou e em suma, por causa da pandemia e das medidas existentes para a tentar combater, o consumo tem recuado significativamente.
Porém, estima-se que quando os níveis de confiança dos consumidores começarem a aumentar, o mesmo acontecerá com os seus gastos, numa espécie de “compras por vingança” que poderá “varrer” os sectores à medida que a procura reprimida até então for libertada. Esta tem sido uma realidade comum a todas as anteriores recessões económicas. Uma diferença, porém, é que os serviços têm sido particularmente atingidos desta vez, o que significa que a retoma deverá provavelmente privilegiar alguns negócios em detrimento de outros, particularmente os que têm um elemento comum, tais como a restauração e os locais de entretenimento.
Tal não significa porém que os consumidores venham a agir de forma uniforme. O mais recente inquérito da McKinsey aos consumidores, publicado em finais de Outubro, concluiu que os países com populações mais envelhecidas, como França, Itália e Japão, são menos optimistas no que a este aspecto diz respeito do que aqueles com populações mais jovens, como a Índia e a Indonésia. A China é uma excepção, na medida em que apesar de ter também um significativo segmento populacional envelhecido, goza em simultâneo de um elevado optimismo. Na verdade, e apesar de ter sido o primeiro país a ser atingido pela pandemia de Covid-19, é também o primeiro a emergir da mesma. Os consumidores da China sentem-se mais aliviados e estão a gastar em conformidade com esse mesmo sentimento. Por exemplo, no Dia dos Solteiros, celebrado a 11 de Novembro, os dois maiores retalhistas online do país atingiram recordes de vendas. Enquanto a produção na China começou a regressar à vida em Setembro último, o mesmo aconteceu com as despesas dos consumidores. Com excepção das viagens aéreas internacionais, os consumidores chineses começaram a agir e a gastar, em níveis bastante próximos ao período pré-pandémico. A Austrália também oferece alguma esperança. Com a pandemia significativamente contida no país, as despesas das famílias alimentaram uma taxa de crescimento mais rápida do que a esperada – de 3,3% no terceiro trimestre de 2020 -, com as despesas em bens e serviços a aumentarem 7,9%.
Todavia, a rapidez e a solidez da recuperação da confiança é, como seria de esperar, uma questão em aberto. No final de Setembro, por exemplo, os consumidores americanos inquiridos estavam mais optimistas do que antes, mas ainda assim cautelosos, relatando que planeavam comprar presentes de Natal para menos pessoas e que se manteriam atentos às despesas discricionárias. Apenas cerca de um terço tinha retomado as actividades fora de casa, em comparação com 81 por cento dos consumidores na China, 49 por cento em França – e apenas 18 por cento no México. Novos confinamentos, a par do lançamento das vacinas, têm vindo a afectar, e continuarão a afectar, esses números. A questão é que o consumo só deverá recuperar à medida que as pessoas se sentirem mais confiantes e readquirirem a sua “mobilidade” , o que será marcadamente diferente de país para país.
Compras online serão cada vez mais rotineiras
Em nove dos 13 principais países inquiridos pela McKinsey, pelo menos dois terços dos consumidores afirmam ter experimentado novas formas de aquisição de bens, em particular e como sabemos, as compras online. E, em todos os 13, 65% ou mais dizem que tencionam continuar a fazê-lo. A implicação é que as marcas que ainda não descobriram como chegar aos consumidores através dos canais online serão deixadas para trás. A McKinsey estima que nos mercados em desenvolvimento – Brasil e Índia, por exemplo -, a pandemia irá acelerar as compras digitais, embora a partir de uma base baixa. Os consumidores na Europa continental têm feito também mais compras online, não sendo, contudo tão entusiastas como os da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos, e não se sabendo ainda se o continuarão a fazer.
Especificamente, sublinha a McKinsey, a mudança para a venda a retalho online é real e grande parte dela irá manter-se. Nos Estados Unidos, a penetração do comércio electrónico foi prevista em 2019 para atingir 24% em 2024; em Julho de 2020, tinha atingido 33% do total das vendas a retalho. Ou e por outras palavras, no primeiro semestre de 2020 registou-se um aumento no comércio electrónico equivalente ao dos dez anos anteriores.
Mas e se escavarmos um pouco mais fundo, existem algumas notas de precaução, de que é notória falta de lealdade à marca entre os compradores online. Talvez mais revelador e de acordo com um inquérito recente feito pela McKinsey, apenas 60% das empresas de bens de consumo dizem estar moderadamente preparadas para capturar oportunidades de crescimento do comércio electrónico. E, como afirmou um executivo nesse mesmo inquérito, “quando se trata de vender directamente aos consumidores, não sabemos realmente por onde começar”. Essa preocupação é certamente válida. A venda directa ao consumidor requer o desenvolvimento de novas competências e capacidades, a par de novos modelos comerciais e de preços. Mas a tendência é clara: muitos consumidores estão a mover-se para o espaço das compras virtuais. E, para chegar até eles, as empresas terão de estar presentes no mesmo.
Inovação e empreendedorismo recebem novo estímulo
“Platão estava certo: a necessidade é, de facto, a mãe da invenção”. Durante a crise da Covid-19, a digitalização tem tido um crescimento mais do que significativo, abrangendo vários domínios, desde o serviço ao cliente online ao trabalho remoto, sem esquecer a reinvenção da cadeia de fornecimento, passando pelo uso da inteligência artificial (IA) ou do machine learning para melhorar as operações. Os cuidados de saúde também mudaram substancialmente, com a tele-saúde e a biofarmácia a tornarem-se cada vez mais acessíveis.
A verdade é que a perturbação cria espaço para os empreendedores – e é isso que está a acontecer nos Estados Unidos, em particular, mas também em outras grandes economias. Algo que a própria McKinsey admite não ter previsto. Afinal, durante a crise financeira de 2008-09, a formação de pequenas empresas diminuiu, tendo aumentado apenas ligeiramente durante as recessões de 2001 e 1990-91. Desta vez, no entanto, há uma verdadeira inundação de novas pequenas empresas. Só no terceiro trimestre de 2020, foram desenvolvidas mais de 1,5 milhões de aplicações por novos empreendimentos nos Estados Unidos – quase o dobro do número do mesmo período em 2019.
É verdade que muitas destas empresas são “unipessoais” e assim podem continuar. Basta pensar nos gerentes da restauração que passaram a ser fornecedores ou no recém-licenciado que criou uma app original. Por isso é intrigante que o volume de “aplicações de negócios de alta propensão” (aquelas que mais possibilidades têm para se transformarem em negócios que geram emprego) também tenha aumentado fortemente – mais de 50 por cento em comparação com 2019. Por seu turno, a actividade de capital de risco baixou apenas ligeiramente no primeiro semestre de 2020.
Na União Europeia, porém, esta resposta não tem sido assim tão vincada, talvez porque a sua estratégia de recuperação tende a enfatizar a protecção dos empregos (e não dos rendimentos, como nos Estados Unidos). Mas e mesmo assim, a França assistiu à formação de 84 mil novos empreendimentos até Outubro último, a mais alta jamais registada, com um número superior em 20% comparativamente ao mesmo mês em 2019. A Alemanha também testemunhou um aumento de novas empresas em comparação com 2019, o mesmo acontecendo com o Japão.
Todavia e por outro lado, a crise da Covid-19 tem sido devastadora para as pequenas empresas. Nos Estados Unidos, por exemplo, existiam menos 25,3% de empresas abertas em Dezembro de 2020 face ao início do ano, com as receitas a caírem mais de 30% entre Janeiro e Dezembro de 2020. No entanto e porque também precisamos de boas notícias, a tendência positiva do empreendedorismo pode ser um bom presságio para o crescimento do emprego e da actividade económica quando a recuperação se concretizar.
(R)evolução digital conduzirá a ganhos de produtividade
Não há volta a dar. A grande aceleração na utilização da tecnologia, na digitalização e nas novas formas de trabalho será sustentada. Muitos executivos relataram que se “deslocaram” 20 a 25 vezes mais depressa do que pensavam ser possível em questões como a melhoria da segurança dos seus dados ou no aumento de utilização de tecnologias avançadas nas suas operações.
No passado, foi necessária uma década ou mais para que as tecnologias disruptivas se transformassem em factores de produtividade. A crise Covid-19 acelerou em vários anos essa mesma transição em áreas como a IA e a digitalização, e ainda mais rapidamente na Ásia. Um inquérito da McKinsey publicado em Outubro de 2020 concluiu que as empresas estão três vezes mais disponíveis, comparativamente ao período pré-pandemia, a realizar pelo menos 80 por cento das suas interacções com os clientes de forma digital.
No entanto, esta evolução não tem sido um processo sem descontinuidades, na medida em que as empresas tiveram de se esforçar significativamente para instalar ou adaptar novas tecnologias sob uma intensa pressão, o que conduziu, em vários casos, a resultados negativos. O desafio a curto prazo é, portanto, passar da reacção à crise à construção e institucionalização do que tem sido bem feito até agora. Para as indústrias de consumo, e particularmente para o retalho, tal irá exigir uma melhoria nos modelos de negócio digitais e de omnichannel. No que respeita aos cuidados de saúde, por exemplo, um caminho poderá ser o de estabelecer opções virtuais como uma norma e, na área dos seguros, será necessário personalizar a experiência do cliente. Para todos e de acordo com a McKinsey, existirão novas oportunidades para fusões e aquisições, a par de uma necessidade urgente de investir no desenvolvimento de competências.
Em suma, a crise da Covid-19 criou um imperativo para as empresas reconfigurarem as suas operações, em conjunto com uma oportunidade para as transformar. E quem o fizer melhor, terá ganhos significativos em produtividade.
O futuro do trabalho chegou antes do previsto
Antes da pandemia, a ideia do trabalho à distância já estava no ar, mas sem avançar com firmeza. Com o surgimento do novo coronavírus, dezenas de milhões de pessoas transitaram, e de um dia para o outro, para o trabalho a partir de casa e numa vasta gama de indústrias. Por exemplo, cita a McKinsey, e de acordo com Michael Fisher, presidente e CEO do Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, foram registadas duas mil consultas em regime de tele-saúde ao longo de todo o ano de 2019, com cinco mil por semana em Julho de 2020. Fisher acredita que a tele-saúde poderá representar 30% de todas as consultas no futuro. No Japão, menos de mil instituições ofereceram cuidados à distância em 2018; em Julho de 2020, mais de 16 mil já o tinham feito.
O McKinsey Global Institute (MGI) estima que mais de 20% da mão-de-obra global (na sua maioria empregos altamente qualificados e em sectores como as finanças, os seguros e as TI) poderia trabalhar a maior parte do seu tempo fora do escritório – e ser igualmente eficaz. E apesar de nem todas as pessoas que o podem fazer desejarem esta alteração, a verdade é que esta é uma mudança única em muitas gerações. E está a acontecer não só devido à crise da Covid-19, mas também porque os avanços e a aceleração na automatização e na digitalização durante a pandemia o tornaram possível. Como observou o CEO da Microsoft, Satya Nadella, em Abril de 2020, “assistimos a dois anos de transformação digital em dois meses”.
Como sublinha a McKinsey, há dois importantes desafios relacionados com a transição para o regime de teletrabalho.
O primeiro é o de decidir o papel do próprio escritório, que é o centro tradicional para a criação da cultura organizacional em conjunto com o necessário sentido de pertença porparte dos colaboradores. As empresas terão de tomar decisões sobre tudo, desde imóveis (precisamos deste edifício, escritório ou andar?) ao design do local de trabalho (quanto espaço entre secretárias?) até à formação e desenvolvimento profissional (é possível ter mentores remotamente?), entre outras questões. Ou seja, o regresso ao escritório deixou de ser uma simples reabertura de portas do mesmo.
O outro desafio está relacionado com a adaptação da mão-de-obra às exigências da automatização, da digitalização e de outras tecnologias.
Em 2018, o Fórum Económico Mundial estimou que mais de metade dos trabalhadores necessitaria de uma requalificação, em alguns casos muito significativa, até 2022. E os dados já existentes mostram que os benefícios da requalificação da força laboral actual, em vez da sua substituição e contratação de novas pessoas, superam os custos. O investimento em funcionários pode também fomentar a lealdade, a satisfação do cliente e a percepção positiva da marca.
Todos sabemos que o desenvolvimento da força de trabalho era já uma prioridade mesmo antes da pandemia. Num inquérito da McKinsey realizado em Maio de 2019, quase 90 por cento dos executivos e gestores inquiridos afirmaram que as suas empresas enfrentavam lacunas de competências ou que as esperavam nos próximos cinco anos. Mas apenas um terço admitiu estar preparado para lidar com a questão. A requalificação bem-sucedida começa com o reconhecimento das competências necessárias, tanto agora como num futuro próximo, com a oferta de oportunidades de aprendizagem “customizadas” para as satisfazer e com a avaliação do que funciona e do que não funciona. E, talvez mais importante que tudo o resto, seja o compromisso por parte dos executivos de topo para que uma cultura de aprendizagem ao longo da vida seja integrada na estratégia organizacional. Com ou sem pandemia.
Oportunidades de crescimento “verde” incluídas nos planos de retoma
Um pouco por todo o mundo, os custos da poluição – e os benefícios da sustentabilidade ambiental – são cada vez mais reconhecidos. A China, alguns dos Estados do Golfo e a Índia estão a investir em energia verde a uma escala que teria sido considerada improvável há uma década. A Europa, incluindo o Reino Unido, está unida na luta contra as alterações climáticas. Os Estados Unidos estão a afastar-se do carvão e a inovar numa vasta gama de tecnologias verdes, tais como baterias, métodos de captura de carbono e veículos eléctricos.
Se regressarmos à crise financeira de 2008-09, sabemos que existiram programas de estímulo governamentais substanciais, mas foram muito poucos os que incorporaram acções climáticas ou ambientais. Desta vez é diferente. Muitos (embora nem todos) países estão a utilizar os seus planos de recuperação como uma via para transformar as prioridades da política ambiental existentes numa realidade.
A União Europeia, por exemplo, planeia dedicar cerca de 30% do seu plano de 730 mil milhões de euros para lidar com a crise pandémica a medidas relacionadas com as alterações climáticas, incluindo a emissão de pelo menos 200 mil milhões de euros em “obrigações verdes”. Já a China, em Setembro de 2020, comprometeu-se a reduzir as suas emissões líquidas de carbono para zero até 2060, com o Japão a prometer atingir a neutralidade carbónica até 2050. Mas outros bons exemplos têm vindo a ser anunciados. O Green New Deal da Coreia do Sul, que constitui parte do seu plano de recuperação económica, assumiu a aposta em infra-estruturas e tecnologias mais ecológicas, com o objectivo declarado de emissões líquidas zero até 2050. Ao longo da campanha eleitoral, o presidente eleito dos EUA , Joe Biden, comprometeu-se a investir 2 biliões de dólares em energia limpa relacionada com transportes, energia e construção. Já a Nigéria planeia eliminar gradualmente os subsídios existentes para os combustíveis fósseis e instalar sistemas de energia solar para uma população estimada de 25 milhões de pessoas, enquanto a Colômbia está a plantar 180 milhões de árvores.
O imperativo “verde”para os negócios é claro e em duas frentes. Primeiro, as empresas precisam de responder às preocupações de sustentabilidade dos investidores. É possível, ainda que possa ser especulativo, que a crise da Covid-19 prefigure o que poderia ser uma crise climática: sistémica, de rápida evolução, de grande alcance e global. Há, portanto, motivos de sobra para que as empresas tomem medidas para limitar os seus riscos climáticos – por exemplo, tornando os seus investimentos de capital mais “resilientes ao clima” ou diversificando as suas cadeias de abastecimento.
Adicionalmente, parece ser cada vez mais claro que as oportunidades de crescimento que uma economia verde representa podem ser substanciais. A gigantesca BlackRock, a empresa de investimento global com cerca de 7 triliões de dólares em activos sob gestão, observou nas suas Perspectivas Globais 2021 que, “ao contrário do consenso do passado”, espera que a mudança para a sustentabilidade “ajude a aumentar os retornos” e que “a mudança tectónica para o investimento sustentável está a acelerar”. As oportunidades de crescimento verde abundam em sectores como a energia, a mobilidade e a agricultura. E tal como as empresas de economia digital têm alimentado os retornos do mercado de acções nas últimas décadas, também as empresas de tecnologia verde poderão desempenhar esse papel nas próximas décadas.
Capitalismo dos stakeholders ganha maturidade
“A ideia de que as empresas devem procurar servir os interesses dos consumidores, fornecedores, trabalhadores e sociedade, bem como dos accionistas, não é nova. O fabricante americano de chocolate Milton S. Hershey disse-o desta forma há mais de um século atrás, ‘o negócio é uma questão de serviço humano’. Em 1759, Adam Smith observou, na Teoria dos Sentimentos Morais, que o indivíduo é ‘sensível ao facto de o seu próprio interesse estar ligado à prosperidade da sociedade, e que a felicidade depende da sua preservação ‘. Além disso, o próprio mercado livre tem sido uma força social positiva, alimentando o crescimento económico que tem trazido avanços críticos na saúde, longevidade e na prosperidade geral em todo o mundo”.
Mesmo assim e como têm vindo a demonstrar sondagens e inquéritos sucessivos, existe uma desconfiança generalizada em relação ao “business as usual”. E é aí que entra o capitalismo dos stakeholders, servindo como ponte entre as empresas e as comunidades das quais fazem parte. Adicionalmente, a crise da Covid-19 pôs em evidência a interconectividade das empresas e da sociedade. “Será um verdadeiro ponto de inflexão”, diz Rajnish Kumar, presidente do State Bank of India e citado pela McKinsey. “E o que quer que aprendamos através deste processo não deve ser desperdiçado”, acrescenta ainda.
A crescente proeminência da ideia do capitalismo dos stakeholders já é mais do que apenas conversa (embora reconhecidamente continue a traduzir-se em mais palavras do que acções). Por exemplo, as B Corps certificadas são legalmente obrigadas a considerar os interesses de todas as partes interessadas na sua tomada de decisões, inclusive alterando as suas estruturas de governação para esse efeito. Desde 2007, ano em que as primeiras empresas receberam esta certificação, existem já mais de 3500 B Corps espalhadas pelo mundo.
Contudo e obviamente, nada disto significa que as empresas devam evitar a procura do lucro, muito pelo contrário, tal como é observado pela própria McKinsey: “Há um termo para uma empresa esclarecida com as mais perfeitas intenções que não ganha dinheiro: defunta”. Assim e ao invés, o capitalismo dos stakeholders assume-se como um argumento para infundir lucro, uma métrica facilmente mensurável e um sentido de propósito – algo que os humanos naturalmente procuram.
E na verdade não parece existir conflito entre a procura de lucro e a busca do propósito. Num estudo que analisou 615 grandes e médias empresas americanas cotadas em bolsa entre 2001 e 2015, o McKinsey Global Institute apurou que as que têm uma visão a longo prazo – algo que é nuclear ao conceito deste novo capitalismo – superaram as suas congéneres em termos de lucros, receitas, investimento e crescimento do emprego. Uma outra pesquisa global da McKinsey, realizada em Fevereiro de 2020, fez igualmente saber que a maioria dos executivos e profissionais de investimento inquiridos afirmaram acreditar que os programas ambientais, sociais e de governação já criam valor a curto e longo prazo e que o farão ainda mais num período de cinco anos.
O actualmente tão falado capitalismo dos stakeholders ou capitalismo inclusivo tem muito a ver com a construção da confiança – a qual pode ser denominada como “capital social”- de que todas as empresas precisam para continuar a operar os seus negócios
Em Março de 2020, vários consultores da McKinsey argumentaram que a crise pandémica poderia ser o “imperativo do nosso tempo “. Um mês mais tarde, ficou igualmente claro que esta iria trazer “uma reestruturação dramática da ordem económica e social “. Na verdade, a pandemia de Covid-19 tem sido uma catástrofe económica e humana, e está longe de ter terminado. Mas com as vacinas a começarem a ser administradas, é possível ser-se cautelosamente optimista e esperar que o próximo normal possa ainda surgir este ano ou, talvez mais provável, no próximo. Complementarmente, a McKinsey acredita que, em muitos aspectos, este novo normal poderá ser melhor do que aquele que conhecíamos.
Com uma boa liderança, tanto por parte das empresas como dos governos, as mudanças acima descritas – produtividade, crescimento verde, inovação e resiliência – podem fornecer uma base duradoura para o longo prazo.
Editora Executiva