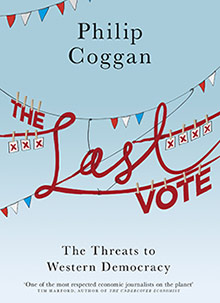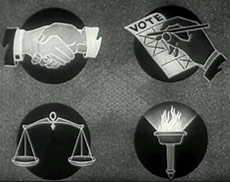|
“O contrato implícito no sistema democrático – de que os políticos oferecem prosperidade em troca de votos – foi quebrado”. Esta é uma das ideias-chave do livro “The Last Vote: The Threats to Western Democracy”, no qual são exemplarmente catalogadas as principais ameaças ao sistema democrático actual. A desilusão com os políticos, em conjunto com a dieta da austeridade, está a favorecer o regresso das alas extremistas. Mas este é apenas um dos efeitos secundários indesejáveis do défice democrático
E, em ano de eleições europeias, depois de mais de cinco anos a sofrer de uma dupla crise, económica e social, o que desejarão os eleitores do Velho Continente? Dar-se-ão ao trabalho de irem às urnas? E, se assim for, penalizarão as políticas de austeridade? Lembrar-se-ão dos elevados níveis de desemprego que teimam em persistir? Ou da protecção social que, entretanto, lhes foi retirada? Ou das oportunidades educacionais negadas a milhões de jovens? Ou estarão, ao invés, mais esperançados com a ligeira recuperação que se começa a sentir nesta Europa tão fustigada por desigualdades crescentes? Acreditarão que os líderes europeus se irão esforçar para inverter o caminho até agora seguido, que a Europa lhes poderá tornar a oferecer empregos de qualidade e um futuro firme que procure um fim para a austeridade, para a incerteza e para a divisão que se instalou no seu território? Terão os cidadãos europeus a vontade de votar por candidatos que possam alterar a forma como a União Europeia tem vindo a ser gerida? Ou lembrar-se-ão, estes mesmos cidadãos, agora com um sentido mais apurado de crítica, de que a Europa não tem agido em seu prol, mas antes em prol de políticas estabelecidas por entidades “maiores” que decidem o seu futuro?
As perguntas acima elencadas não são de fácil resposta, mas a verdade é que os cidadãos dos 28 países que terão de votar para eleger o Parlamento Europeu, em Maio deste ano, não deverão fugir à regra que tem vigorado há já umas boas décadas: a participação eleitoral tem vindo a decair gradualmente e a desilusão com os políticos é um fenómeno cada vez mais enraizado. Ou, como soam os alertas: a democracia está doente e, sem remédios para a sua cura, podemos estar a braços com efeitos secundários profundamente indesejáveis. “Tornámo-nos gradualmente complacentes relativamente aos nossos sistemas democráticos e profundamente cínicos face aos políticos que lideram os nossos governos. Em todo o mundo ocidental, a participação eleitoral tem vindo a cair continuamente nos últimos 40 anos; o declínio é igualmente visível na adesão aos partidos políticos. A ausência de participação ao nível das bases na democracia cria um desafio para os estados ocidentais, numa altura em que estes enfrentam um crescimento letárgico no seguimento da crise financeira. O contrato implícito no sistema democrático – de que os políticos oferecem prosperidade em troca de votos – foi quebrado”. O excerto acima traduzido foi retirado do livro “The Last Vote: The Threats to Western Democracy”, escrito por Philip Cogan, jornalista económico do Financial Times ao longo de mais de 20 anos e actualmente responsável pela coluna Buttonwood da revista The Economist. Ao longo de 10 capítulos, o autor faz um excelente trabalho a catalogar os problemas inerentes à democracia moderna – sem esquecer também a história deste sistema que se foi disseminando no mundo ocidental nos últimos 100 anos – devotando, no entanto e apenas, dois capítulos, menos convincentes, no que respeita a formas de os poder solucionar. Todavia, o livro oferece material mais do que suficiente para convidar à reflexão. O VER sumariza de seguida algumas das principais ideias formuladas por Coggan e convida os seus leitores a juntarem-se ao debate. A dupla ameaça à democracia
Inversamente, a questão do topo para as bases é explicada por uma alteração da “arquitectura democrática”. Recorrendo à génese da democracia, a ateniense, Coggan relembra que esta tinha como base a participação massificada, em que os cidadãos (com excepção, é claro, para as mulheres e os escravos) se reuniam para tomar decisões, algo que funcionava para uma cidade pequena, mas não para um estado-nação. Assim, e do século XVIII para a frente, o despertar de uma nova democracia teve como base o modelo representativo, com os eleitores a terem o direito de escolher, e de demitir, os seus governantes. Mas, e como escreve Coggan, rapidamente caminhámos para um terceiro modelo no qual os nossos representantes delegam as decisões em “especialistas” – aos bancos centrais independentes, aos tribunais internacionais, às agências tecnocráticas e por aí adiante. Para o autor, esta “ delegação” pode até ser compreensível, na medida em que governar uma sociedade moderna é uma tarefa muito complexa, mas e ao mesmo tempo, tal reduz o sentido de responsabilização democrática. “Com os políticos, é possível demitir os ‘parasitas’ quando eles nos desagradam. Mas se as pessoas mais poderosas do mundo são os responsáveis pelos bancos centrais, como Ben Barnanke [o presidente da Reserva Federal Americana, entretanto substituído por Janet Yellen], ou Mario Draghi [presidente do Banco Central Europeu] ou Mark Carney [governador do Banco de Inglaterra], como é possível demiti-las?”, questiona. Assim, esta desresponsabilização da elite política contribui ainda mais para a desilusão do eleitor comum. E, aliado a este facto, existe um outro que conhecemos sobejamente: “são muitos os cidadãos que sentem que os partidos ‘mainstream’ na maioria dos países europeus têm poucas diferenças políticas”. Ou seja, os governos que estavam em funções no início da crise foram destituídos, mas a oposição que os substituiu nas funções de governação acabou por seguir programas similares de austeridade, respondendo às exigências de “poderes maiores”.
Para além deste ciclo vicioso abalar profundamente a democracia – se o meu voto não imprime qualquer diferença nas políticas a serem seguidas, por que motivo terei de me preocupar em votar? – Coggan alerta para um pernicioso “efeito secundário”: o encorajamento do extremismo, na medida em que só as alas extremas parecerem oferecer alguma alternativa genuína, seja à esquerda ou à direita. Este afastamento do que é “habitual” é ilustrado por Coggan com os exemplos de novos partidos como o Syriza ou o Aurora Dourada na Grécia, para Beppe Grilo na Itália e para o Partido da Independência do Reino Unido, em Inglaterra. Mesmo na América, onde continuam a dominar os dois partidos de sempre, tem havido um declínio do bipartidarismo e o debate político é crescentemente rancoroso, tornando cada vez mais difícil selar os acordos dos quais depende a democracia. Apesar de não considerar estar ameaça de “deslize” para os partidos extremistas como uma tendência geral, a verdade é que em países como a Grécia, Itália e até mesmo a França, o que temos vindo a testemunhar é que existe uma porção do eleitorado – quantificada por Coggan entre um quarto ou um terço do total – que se sente perfeitamente à vontade para votar em partidos longe dos “mainstream”, ou nos mais extremistas, e que essa porção, se tudo continuar na mesma, poderá vir a aumentar consideravelmente. O autor recorda que Hitler começou por ter apenas o voto de 37% do eleitorado alemão e que não é de descartar totalmente a possibilidade de os extremistas virem a ganhar terreno continuamente. Uma outra realidade prende-se com a questão da desigualdade. Coggan recorda que “as acções dos bancos centrais, para proteger e apoiar os mercados accionistas através das políticas monetárias ao mesmo tempo que os salários reais sofreram enormes apertos, contribuíram para cimentar a ideia de que a economia é manipulada para favorecer os ricos” – uma crença que imediatamente inspirou o famoso movimento Occupy Wall Street (entre outros).
Mas este fenómeno tem igualmente uma ressonância histórica. À medida que a economia se foi desenvolvendo, ao longo dos séculos XVIII e XIX, uma classe média crescente exigia que a sua voz fosse igualmente ouvida, à qual se juntaram as organizações dos trabalhadores, que ganharam o direito ao voto em finais do século XIX e inícios do século XX. O que Coggan pretende afirmar é que, num certo sentido, o direito ao voto foi também o reconhecimento do poder económico de vários grupos. Esta vitória contribuiu para estes grupos usarem o seu voto para alterar as políticas governamentais a seu favor : a criação de uma rede de segurança social ou a imposição de políticas fiscais redistributivas que, de forma severa, conseguiram reduzir a desigualdade em meados do século XX. “O problema é que o poder económico não levou muito tempo a ser redireccionado para os ricos e para os capitais globais que têm a liberdade para movimentar dinheiro entre fronteiras”, acrescenta, “não sendo de admirar o facto de o poder político ter seguido esta mesma tendência”. O autor escreve também que os ricos se preocupam com os governos, simplesmente porque, e tal como afirmava o famoso assaltante de bancos norte-americano Willie Sutton, “é aí que está o dinheiro”, ou seja, na capacidade que os governos têm de distribuir subsídios, de conferir isenções de impostos ou de oferecer privilégios legais, todos eles de importância extrema para os negócios. Mais ainda e como é sabido, os partidos políticos dependem fortemente do financiamento proporcionado pelos mais ricos, particularmente nos Estados Unidos. O autor recorda que as últimas eleições custaram seis mil milhões de dólares, o que confere aos ricos uma gigantesca influência. Ou, como escreve, “cada cidadão tem direito a um único voto, mas alguns cidadãos têm maior influência que outros”. E é por isso que defende que a democracia poderá, caso não tenhamos cuidado, para uma plutocracia. Uma chamada de atenção também para o poder dos media, que merece um lugar de destaque num dos capítulos do livro, no qual argumenta que a dispersão que caracteriza os media da actualidade constitui, também, uma ameaça à democracia. Para Coggan, os órgãos de comunicação social de nicho, promovem aquilo que denomina como “pensamento de grupo” e um “preconceito confirmado”. Ou seja, Coggan atribui o declínio dos media “mainstream” aos jornalistas que “se consideram a si mesmos como a oposição não oficial do governo em funções”, recordando que “passámos de um período em que há 50 ou 60 anos os políticos eram tratados com um respeito exagerado, para um outro em que são completamente desprezados”. O que também debilita significativamente o sistema.
Um grito de alerta para os eleitores Na entrevista já citada, o autor afirma que há que reconhecer que se estivéssemos na posição de David Cameron, Barack Obama ou François Hollande, teríamos exactamente a mesma dificuldade em tomar decisões. “Estas pessoas não estão a falhar porque são corruptas ou estúpidas, mas sim porque as escolhas que enfrentamos são genuinamente complexas”, diz. “E se mantivermos o nosso cinismo e nos limitarmos a lavar as nossas mãos, então é porque merecemos alguns dos problemas que enfrentamos”, acrescenta, advogando um maior envolvimento civil e assegurando que votamos em consciência. No que respeita a reformas adicionais para restaurar a democracia, é o próprio autor a reconhecer que as mesmas não conseguirão rejuvenescer a democracia, voltando a afirmar que os eleitores deverão aceitar a sua quota-parte de responsabilização neste processo. Coggan propõe, contudo, algumas ideias para proteger a democracia, como a inclusão de petições online que obriguem a um debate governamental no que respeita a certos tópicos e volta a insistir que a melhor forma de a salvaguardar é limitando os donativos e o financiamento dos partidos. Mas e em suma, no que respeita a soluções, confiar na ideia de “votar como se fosse a nossa última vez” não poderá nunca ser suficiente. Nem nos podemos dar ao luxo de esperarmos por uma sequela. |
|||||||||||||||||||||||
Editora Executiva