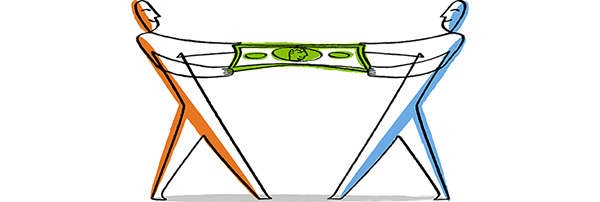|
Passaram-se cinco anos desde a queda da gigante firma de investimento, que deu origem à maior crise financeira desde a Grande Depressão, com efeitos destruidores e muitas réplicas que ainda hoje se fazem sentir. Depois de um terramoto desta envergadura, seria de esperar que o mundo se unisse para reconstruir o edifício financeiro e garantir que o desastre não se voltasse a repetir. Sim, a banca está de volta aos lucros e os bónus voltaram a encher os bolsos dos banqueiros. Lições aprendidas? Poucas, muito poucas
Cinco anos passados, o que mudou? Aprenderam-se lições? Os erros foram colmatados? Estão reunidas as condições para que uma nova crise desta natureza não se repita? Os banqueiros sofreram uma lobotomia e vão passar a não colocar o lucro acima de tudo o resto? Wall Street, a City e outros mercados financeiros mundiais estão a implementar novas regulamentações? As agências de rating estão a fazer melhor os seus trabalhos de casa? Há convergência das normas contabilísticas em diferentes jurisdições? Os bancos continuarão a ser grandes demais para falirem? As perguntas poderiam continuar indefinidamente, mas o que interessa são as respostas. E estas não são, de todo, consensuais. O VER mergulhou em vários artigos, norte-americanos e europeus, para tentar descortinar algumas possíveis respostas e, entre analistas mais positivos e outros verdadeiramente pessimistas (ou realistas?), apresenta alguns pontos de vista que, sem poderem afirmar, preto no branco, que sim, aprendeu-se a lição, ou que não, é bem possível que uma crise similar volte a acontecer, traçam um cenário de como vai o mundo cinco anos depois de ter sido violentamente abalado pela maior crise desde os idos anos 1930 de Franklin D. Roosevelt. O que se aprendeu ou o que se devia ter aprendido
O professor Wray afirma não ter qualquer dúvida que a crise começou, de facto em 2007, com os problemas no mercado de hipotecas de alto risco – fenómeno que ficou conhecido no léxico global como a “ a crise do subprime” – e com o sistema “de cima a baixo totalmente fraudulento”, mas, por exemplo, o acima citado Andreas Dombret, situa-a nos anos de 1990, época fértil em “inovação financeira”. Para o economista do Deutsche Bank, a crise financeira que haveria de dar origem a uma hecatombe mundial, em pouco diferia de outro tipo de crises; um crescimento elevado do crédito, estimulado por um ambiente de taxas de juro baixas e, logo, muito convidativas. Mas os novos tipos de securitização, que ao longo da década de 90 foram adicionados à caixa de ferramentas dos engenheiros financeiros, tornaram possível “embrulhar” em conjunto uma vasto portefólio de empréstimos e vendê-lo, às “fatias” ou em tranches. Tudo seria normal se a estes instrumentos “benéficos” não tivessem sido adicionados dois problemas: incentivos distorcidos e falta de transparência. Alimentada por juros demasiado baixos, em conjunto com a falta de regulação do sistema financeiro, qualquer pessoa, mesmo aquelas que não possuíam qualquer tipo de bem, responderam à sedução da banca, o que haveria de conduzir ao eclodir da bolha imobiliária americana, que piorou consideravelmente depois da queda do Lehman. Como afirma, no livro “After the Music Stopped”, o ex-vice presidente da Reserva Federal, Alan Blinder, “a discussão sobre a crise financeira divide-se em dois momentos ‘históricos’: antes e depois do Lehman”.
Num artigo publicado no Project Syndicate, escrito pelo reconhecido economista Roman Frydman, e tendo em consideração que reguladores, banqueiros e agências de rating terão sempre às costas um enorme fardo de culpa por causa da crise, “o quase colapso não se deveu tanto ao fracasso do capitalismo, mas sim à incapacidade dos modelos económicos contemporâneos compreenderem o papel e o funcionamento dos mercados financeiros e, de uma forma mais alargada, a instabilidade própria das economias capitalistas”. Frydman relembra que, depois do colapso do Lehman, o antigo presidente da Reserva Federal Alan Greenspan, testemunhou, em frente ao Congresso norte-americano, que “tinha encontrado uma falha na ideologia que declarava que o auto-interesse iria proteger a sociedade dos excessos do sistema financeiro”. Todavia, os estragos já tinham sido feitos. Mais ainda, convém igualmente relembrar que o ex-presidente da Fed foi um fervoroso adepto da liberalização dos mercados, tendo-os deixado funcionar em total liberdade e que só em 2004 começou a inverter as baixíssimas taxas de juro que tornaram o crédito irresistível. Mas e regressando às possíveis lições retiradas da crise, Randall Wray afirma que a mesma demonstrou, pelo menos, que uma verdadeira reforma só poderia ter lugar nas “profundezas” da dita. O que, a seu ver, acabou por não acontecer. Como escreve: “na medida em que Wall Street foi resgatada atrás das portas fechadas da Fed e do Tesouro norte-americano (com um custo de 29 triliões de dólares), não há qualquer esperança para a reforma”, afirma convicto, acrescentando que “as grandes instituições apenas se tornaram maiores e estão a fazer, novamente, o que fizeram em 2007”. O economista afirma mesmo que até a frágil reforma Dodd-Frank – apesar de ser considerada como a mais abrangente desde a crise de 1929 – “nunca será devidamente adoptada por Wall Street, pois os seus poderosos exércitos tudo fazem para a atrasar, desvirtuar e, eventualmente, evitar a implementação de qualquer que seja a mudança para restringir as práticas financeiras que causaram a crise”. Para este economista, a lição mais importante a retirar dos últimos cinco anos é a de que “na próxima crise, não podemos deixar que a Fed e o Tesouro se reúnam à porta fechada para resgatar os ‘vampiros’ que continuam a destruir a economia, mas sim cravar-lhes uma estaca no coração na altura em que estejam mais enfraquecidos”.
Menos “sangrenta”, mas igualmente “pouco esperançosa” é a análise do antigo ministro dos assuntos financeiros do Reino Unido, Lorde Myners, numa entrevista ao The Guardian. Para quem se insurgiu furiosamente contra os “senhores do Universo” – leia-se “banqueiros”, como “gente escandalosamente paga a preço de ouro” e responsáveis pela má gestão dos bancos e do caos financeiro de 2008, “os bancos continuam a ser demasiado grandes, demasiado inter-relacionados e demasiado subcapitalizados”. E o mesmo afirma Lorde Turner, antigo responsável da Autoridade de Serviços Financeiros britânica (agora substituída pela Autoridade da Regulação Prudencial) que refere, ao mesmo jornal, que muito pouco mudou para se prevenir uma crise similar e que “enquanto as pessoas pensarem que conseguem fazer dinheiro do nada, tudo se poderá voltar a repetir”. Glen Hodgson, vice-presidente sénior e economista chefe do The Conference Board do Canadá, afirma que em 2008, “aprendemos a responder a uma crise – através da aplicação de estímulos monetários e fiscais selectivos quando necessários e através da organização de esforços globalmente coordenados”. Todavia, acrescenta, as lições não foram suficientemente aprendidas no que respeita à prevenção de uma nova crise. “Cinco anos depois da crise de 2008, a economia mundial está em melhor forma, mas continua exposta a factores chave de risco: a falta de regulação do sector financeiro a nível global e muitas firmas, de grande dimensão, com problemas financeiros graves. Mais ainda, este economista alerta, tal como outros tantos, que face ao problema do “demasiado grande para falir”, pouca ou nenhuma acção subsequente teve lugar para reduzir o risco sistémico. “Assim, se um banco ou empresa de grandes dimensões fracassar na actualidade, o mais provável é que acabe por ser novamente resgatada pelo governo”, assegura. A análise do membro executivo do board do Deutsche Bank não deixa de fora um dos activos cruciais do mercado financeiro (e não só): a confiança ou, como afirma o economista alemão, a palavra em latim “crédito”. “Devido à ausência de transparência, ninguém sabia, na altura, a dimensão exacta da exposição dos bancos à securitização dos empréstimos hipotecários o que, como consequência, gerou uma tremenda desconfiança nos agentes de mercado”. Depois, segue-se a história que toda a gente conhece: a liquidez do mercado de capitais secou depressa, os preços dos activos financeiros começaram a cair a pique, os bancos foram induzidos a vender os seus activos o mais depressa possível para limitar as suas perdas e, como metaforiza Andreas Dombret, toda a gente resolver tentar escapar pela porta de saída ao mesmo tempo, gerando o pânico e a espiral descendente e contagiosa dos mercados.
Coragem para implementar reformas é reduzida Ideias e vontade pareciam gerar consensos, e não eram só os manifestantes do Movimento Occupy Wall Street que clamavam por reformas, sendo que uma delas era a de separar a área comercial da de investimento nos grandes bancos, medida apoiada por Paul Volcker, um antigo presidente da Fed, mas que ainda está por ver a luz do dia. Volcker, que tem também uma lei com o seu nome na reforma Dodd-Frank, a qual pretende travar a especulação bancária, impedindo as instituições bancárias de realizarem negócios por sua conta sempre defendeu a proibição dos bancos de realizarem depósitos com garantias do Estado. E, apesar de terem passado cinco anos, esta e outras reformas que constam do pacote Dodd-Frank, continuam por implementar. Na Europa, e apesar de várias tentativas para uma reforma estrutural do sistema financeiro, os pacotes de reformas estão também a sofrer adiamentos contínuos. Como se pode ler num artigo publicado no Jornal de Negócios, sob o título “O factor medo da reforma da banca”, assinado por Simon Johnson, que foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional e é, actualmente, professor na MIT Sloan, pode ler-se: “Foram prometidas novas regras mas muito poucas foram efectivamente implementadas. A ‘regra Volcker’ (que limita a negociação com vista ao lucro próprio por parte dos bancos), as regras para os derivados são ainda um trabalho a decorrer e os fundos que operam no mercado monetário continuam sem reforma. Pior do que isso, os nossos maiores bancos ficaram ainda maiores. Não há sinais de que tenham abandonado a estrutura de incentivos que encorajou a excessiva assunção de riscos. E as grandes distorções criadas por serem “grandes demais para falir” pendem sobre muitas economias”. Na verdade, e face ao título escolhido para este artigo de opinião, o que Johnson quis evidenciar, tanto no que diz respeito às instituições financeiras norte-americanas como europeias, existe um medo generalizado de “abanar o barco financeiro”, optando-se ao invés por reformazinhas lentas e pouco corajosas. “Os bancos perderão, facilmente, a sua memória institucional”
Para Andreas Dombert, mais do que um evento que acabou por alterar o curso do mundo e, mais importante que tudo, as vidas de milhões de pessoas, a queda do Lehman tornou-se um símbolo: um símbolo de tudo o que estava (e, em muitos casos, continua a estar) mal na banca, no sistema financeiro e, para um conjunto significativo de pessoas, no próprio capitalismo. Mais optimista do que vários colegas seus economistas, o executivo do board do Deutsche Bank afirma que existem algumas boas notícias. Os bancos estão melhor capitalizados do que há cinco anos (muitos analistas discordam desta afirmação), o que está em linha com as novas normas reguladoras internacionais. O pacote Basileia III determina, entre outras medidas, uma fasquia mais rigorosa em termos da qualidade e quantidade de capital e liquidez nos bancos. O Basileia III, desenhado no período que se seguiu à hecatombe bancária nos Estados Unidos como meio de aumentar a segurança do sistema financeiro, foi recentemente aprovado pela União Europeia e visa obrigar os bancos europeus a obedecer a um conjunto de regras únicas para os seus Estados-membros (com reticências ainda da parte do Reino Unido) a partir de 2014. Se tomarmos em consideração o tempo e as múltiplas reuniões e discussões que a reforma bancária tem provocado, não existem grandes esperanças de que as mudanças se farão sentir tanto quanto seria desejável. Consensual parece ser a opinião da esmagadora maioria dos analistas que continua a identificar o problema do “demasiado grandes para falirem” como persistente. Assim o disse Christine Lagarde em Dezembro de 2012, a propósito da reforma do sector financeiro estar incompleta: “para começar, precisamos de progressos concretos na questão das instituições demasiado grandes para falir”. Na verdade, e como também refere Dombert no seu discurso, se um banco demasiado grande para falir entrar em dificuldades, o governo terá de dar outra vez o passo necessário do resgate que para evitar a crise sistémica. O que para o economista alemão acarreta uma assimetria pouco saudável em detrimento dos contribuintes: o banco ganha, o contribuinte perde. Mais uma vez.
Por outro lado, esta assimetria fornece também incentivos distorcidos aos bancos (mais uma vez também), pois sabendo que serão salvos pelos seus governos, têm mais motivos para não resistir a envolverem-se em actividades arriscadas. Ao mesmo tempo ainda, esta garantia implícita por parte dos governos torna as perdas potenciais dos bancos menos arriscadas para os investidores. Ou seja, estes têm uma vantagem de financiamento sobre os bancos que não são sistemicamente importantes. O que torna o problema “demasiado grande para falir” ainda maior. Assim, para o economista alemão, tornar os bancos mais resilientes pode constituir o primeiro passo no sentido de um sistema financeiro mais estável. E o passo que se segue tem de ser o de assegurar que até os bancos grandes e inter-relacionados possam falir sem causarem uma crise sistémica. Neste sentido, uma nova norma internacional para a recuperação e resolução dos bancos sistemicamente importantes está também contemplada no Basileia III, de acordo com Andreas Dobert, que defende também que, em contraste com 2008, a transparência na divulgação dos resultados dos bancos sofreu também importantes alterações e melhorias. A criação de uma nova ferramenta que ainda está a ser desenvolvida – a Legal Entity Identifier (LEI) – e que tem por objectivo a criação de um código global de identificação das entidades que participam do mercado financeiro nas diversas jurisdições, com vista a uma melhoria qualitativa dos dados disponíveis para a avaliação dos riscos sistémicos, pode constituir um pequeno mas importante passo com potencial para ter um efeito benéfico tanto na gestão do dia-a-dia como em altura de crises. E todos desejamos acreditar que sim. Como o leitor poderá imaginar, a temática das reformas no sistema financeiro é quase interminável. E se alguns passos foram dados para aumentar a regulação e para melhorar o comportamento das instituições bancárias, ninguém pode garantir que uma nova crise, similar à de 2008, não venha a eclodir. Como afirmou o chanceler britânico Alistair Darling, “assim que as pessoas que presenciaram a crise de 2008 saírem [dos seus empregos], os bancos irão perder a sua memória institucional”.
Com tudo o que se escreveu e se reflectiu sobre o assinalar dos cinco anos após a queda do Lehman, com os efeitos que se continuarão a sentir no mundo da finança e economia global, a par dos famosos “99%” que sofrem a crise do desemprego, da saúde, da educação, entre outras, é muito pouco provável que a memória se perca. E enquanto os prevaricadores não forem castigados, enquanto a ganância continuar a sobrepor-se à ética e enquanto não se proceder a uma alteração profunda em termos culturais, não serão as normas ou as leis que evitarão novo descalabro. De acordo com a Federal Deposit Insurance Corp., os bancos, em 2012, tiveram o seu mais lucrativo ano desde 2006 e o segundo mais lucrativo de sempre. Ao longo de 14 trimestres seguidos, os lucros da banca têm vindo a aumentar consecutivamente. As receitas na indústria totalizaram 141,3 mil milhões de dólares – um aumento de 19,3% face a 2011 e o segundo valor recordista de sempre depois dos 145,2 mil milhões registados no ano de 2006. E quanto aos bónus? Bem, não tão elevados como em 2006, mas a crescerem alegremente: os bónus em Wall Street tingiram um total de 20 mil milhões de dólares. Ou seja, não há notícias de que os banqueiros mal comportados tenham sofrido alguma lobotomia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Editora Executiva