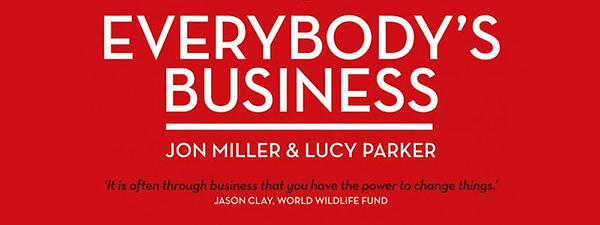|
Geralmente percepcionadas como prejudiciais à economia, à sociedade e ao ambiente devido à perseguição cega do lucro a curto prazo, são já vários os colossos empresariais que estão a usar o seu enorme poder e recursos para imprimir uma marca positiva no planeta. Não é conversa fiada, mas exemplos devidamente documentados num livro recentemente lançado que prova que “fazer bem o bem” é compatível com o que as empresas fazem melhor: negócios
Se há 10, 15 anos, o movimento de responsabilidade social corporativa começou por representar primeiro, um “nice-to-have”, seguido de um “must have”, até que nenhuma empresa se poderia dar ao luxo de ignorar o “impacto” que tinha na comunidade, nos últimos anos, um novo conceito tem estado a ganhar força – e já a provocar um certo “enjoo”, é certo – no universo da gestão. O VER já o analisou, por várias vezes, e apesar de o mesmo continuar a parecer mais uma buzzword que fica sempre bem citar, a verdade é que já existem exemplos mais do que suficientes de grandes empresas que estão a colocar em prática o que na teoria se chama de “propósito”. E é a propósito deste mesmo propósito que Lucy Parker e Jon Miller iniciaram uma viagem, pelos vários cantos do globo, em busca de resultados visíveis de projectos financiados e apoiados por grandes empresas que, realmente, estão a mudar o mundo. A parceria de Lucy Parker – realizadora de documentários para a BBC – com Jon Miller, que trabalhou com inúmeras marcas globais como a Coca-Cola ou a American Express, enquanto Director de Estratégia para a Mother, uma das agências de publicidade mais criativas do mundo e também na prestigiada Ogilvy, resultou no livro Everybody’s Business: The Unlikely Story of How Big Business Can Fix the World, recentemente publicado. De acordo com os autores, os negócios com propósito estão a personificar uma enorme mudança de paradigma no que respeita, em particular, às empresas de grande dimensão, as quais, na sua maioria, aprenderam com os erros e tentam agora redimir-se de muitos males causados ao longo da sua existência. Não é preciso recuar muito no tempo para nos recordarmos da altura em que os CEOs se limitavam, orgulhosamente, a perseguir o retorno para os accionistas (e para eles próprios também). O velho mantra de que “o negócio dos negócios é o de fazer negócio” manteve-se inalterado durante décadas, até que muitos dos gigantes empresariais começaram a perceber que a perseguição cega do lucro servia os seus objectivos de curto prazo, mas falhava em termos de longo prazo ou no sentido de deixar uma marca positiva e duradoura na sociedade ou comunidades nas quais estavam inseridos. Apesar de admitirem que muitas das grandes empresas que visitaram – de que são exemplo, entre outras, a PepsiCo, a Unilever, a Coca-Cola, a Nike, a Glaxo Smith Klein ou a IBM – continuam a manter um longo historial de lucros chorudos para os seus accionistas – os autores garantem que os líderes destes colossos empresariais são agora motivados por outros “propósitos”. Numa entrevista publicada pela Wharton School of Management, os autores explicam por que motivo, numa era em que os gestores conseguem estar abaixo dos advogados em termos de reputação – de acordo com uma pesquisa do Pew Research Center e cujos níveis se mantêm inalterados há uns bons anos -, se dedicaram a escrever este livro “improvável”. Para Jon Miller, é no subtítulo do livro – a história improvável de como as empresas/negócios podem “consertar” o mundo – que reside a melhor pista para o trabalho desenvolvido. Sublinhando que as pessoas têm uma “reacção alérgica” quando ouvem falar nestas grandes empresas, encarando-as com suspeição e até hostilidade, na medida em que quase todas elas têm um historial de crimes e delitos bem documentados, Miller sublinha igualmente que, de forma crescente, as grandes empresas são as que melhor posicionadas estão para fazer da mudança social uma realidade, mesmo as que operam em indústrias “duvidosas” como é o caso das petrolíferas ou do sector mineiro (também elas retratadas no livro). Substituir a má imagem que o público tem destas empresas e criar um efeito de “contágio” no que respeita às suas congéneres é um dos objectivos do trabalho dos autores. Uma parte igualmente interessante deste livro prende-se com os exemplos de empresas que aprenderam a “lição” da pior maneira possível. Os autores dedicam um espaço significativo à forma como muitos destes gigantes empresariais, habituados a ocuparem um pedestal muito próprio, foram obrigados a mudar através de pressões diversas: campanhas levadas a cabo por activistas, censura social, organizações não-governamentais que divulgaram as suas más práticas, pressão por parte de outras suas congéneres, bem como de legislação, são algumas das pressões listadas. Os autores garantem, contudo, que as empresas escolhidas para figurar no livro não se limitaram a “entrar na linha”. As “eleitas” representam também bons exemplos de novas parcerias que vão emergindo e que, à luz de outros tempos, seriam totalmente improváveis, como por exemplo entre as próprias empresas e os seus críticos de outrora. A ideia partilhada é a de que a mudança não exige apenas uma resposta inovadora por parte das empresas, mas também dos próprios activistas, das organizações não-governamentais e dos decisores políticos. O livro mostra também as mudanças levadas a cabo no interior das empresas, em alguns casos nos últimos 50 ou 20 anos e, em outras, em períodos mais recentes. Mais do que olhar para a forma como as empresas devem limitar os danos que causam, a ideia de “everybody’s business” é mostrar que, assim que consigam entrar no caminho “certo”, estes gigantes empresariais podem realmente estimular um impacto positivo na sociedade, sem comprometerem a sua busca de lucro e limitando-se a fazer aquilo que melhor sabem fazer: negócios.
As empresas têm de olhar para fora de si mesmas para se reconciliarem com a sociedade NIKE: do boicote à marca ao mea culpa Na altura, a empresa optou por ignorar a questão, afirmando que não poderia ser responsabilizada pelos actos praticados pelas suas subcontratadas nem pelas práticas dos seus fornecedores. Mas, em Junho de 1996, a revista Life publicou uma fotografia que iria chocar o mundo e que obrigaria a empresa a repensar toda a sua forma de actuação: a de uma criança no Paquistão a costurar uma das suas famosas bolas de futebol. Em simultâneo, uma das mais bem-sucedidas campanhas de sempre em termos de activismo originou um boicote global à marca, a qual, no período em causa, era já líder de mercado. Em 1998, algo raro aconteceu: o presidente do conselho de administração e CEO da Nike, Phil Knight assumiu, publicamente, a sua mea culpa e com um discurso que viria a ser memorável: “os produtos da Nike transformaram-se em sinónimos de trabalho escravo, de horas extraordinárias forçadas e de abuso de poder”. E foi nesta conferência de imprensa que a empresa se viria a comprometer com a implementação de um regime de auditoria “social” mais rigoroso, comprometendo-se a estender as regras e processos operacionais norte-americanos aos seus fornecedores estrangeiros. O episódio acabaria por ficar também na história – na altura ainda recente – da responsabilidade social corporativa, “contagiando” outras grandes empresas a fazerem o mesmo e representando um marco de expansão de responsabilidades a toda a cadeia de stakeholders. A história do boicote global a uma marca transformar-se-ia igualmente numa lição inesquecível no que respeita ao poder dos consumidores em chamarem à responsabilidade uma organização gigantesca. A mudança de rumo da empresa começou com a criação, em 1999, da Fair Labor Association, um grupo sem fins lucrativos que juntava empresas, direitos humanos e representantes sindicais do sector para estabelecer auditorias independentes às fábricas, em conjunto com um código de conduta exigido a todos os fornecedores. Actualmente e como sabemos, a Nike é considerada uma empresa “top” em termos de cidadania, com programas e iniciativas em quase todos os “itens” obrigatórios em termos de responsabilidade social. Mahindra: da sala da administração para a Índia rural IBM – a reconversão das energias de um negócio no seu todo Para qualquer grande empresa, ter uma visão a partir do exterior é muito mais fácil de proclamar do que fazer. E é por isso, afirmam os autores, que um esforço concertado para “alcançar” o mundo lá fora é tão importante. Como afirma Colin Harrison, responsável pelas “smarter cities” da IBM, “temos vindo a construir novos tipos de parcerias”. Antes, a IBM vivia “isolada da sociedade”, não saindo praticamente do interior dos seus gigantescos data centres. “E o que o Smarter Planet tem de mais maravilhoso é o facto de nos ter voltado a ligar à sociedade, simplesmente perguntando: quais são os problemas em que uma empresa como a IBM se deve concentrar?”, acrescenta Harrison. O livro “Everybody’s Business” dedica ainda um espaço considerável aos principais desafios que o mundo atravessa e nos quais as grandes empresas podem e devem dar o seu contributo. Cruzando as três “grandes realidades” da actualidade – Globalização, Tecnologia e Sustentabilidade – os autores definem 11 “conversas” que devem fazer parte das estratégias das empresas que realmente se estão a comprometer com a árdua tarefa de fazer do mundo um local melhor: Economia Global, Direitos Humanos, Comunicação, Segurança, População, Cultura do Consumidor, Energia e Alterações Climáticas, Comunidades, Educação e Competências, Saúde e, por último, Ambiente e Recursos. Lucy Parker e Jon Miller são também partners do Brunswick Group, ajudando as empresas a promover os contributos positivos para a mudança com propósito na sociedade actual. Todos os direitos reservados. Publicado em 10 de Abril de 2014 |
|||
Editora Executiva